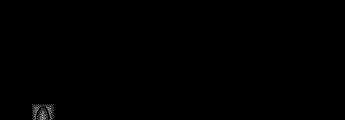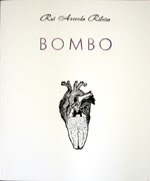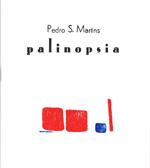HERBERTO HELDER PHALA DE MÁRIO CESARINY
| Há trinta anos os jovens gafanhotos caíram sobre a poesia radioactiva de Cesariny, comeram dela, fulguraram dela um instante como pequenas jóias uranianas. Carbonizou-os o fogo roubado. Jazem agora nos arrabaldes. Quem não assistiu nem suspeita. Pode fruir-se aqui uma lição rápida: o poder que mantém o universo de um grande poeta é inacessível – não está nas palavras mas entre elas, não está nos modos mas atrás deles, não está na claridade mas na obscuridade («Pour être vrai il faudrait être obscur». Flaubert). Eis o abismo entre mestre e discípulos: o mestre é a zona de radiações que os discípulos devassam em revoadas estudantes. As ciências naturais, espécies e espécimes colhidos, trabalhos de campo e casa, desnaturam-se nos fundamentos: não há nada para aprender. O autor, que propôs «alguns mitos maiores alguns mitos menores», só tem a inexplicável sabedoria de ser o dono deles e da sua aliança oculta. No âmbito profano da escolaridade, números e ordens são intransmissíveis. A floração atómica Cesariny ergue-se no deserto, não é paisagem para visitas guiadas, trânsitos, aulas, mapas. Não se ensina nem aprende nela nenhuma botânica democrática. É uma paisagem bárbara, entregue à escarpada biografia dos dias e das noites. Está ali, arboreamente explosiva e irreal como uma radiografia, negra à volta, inabitável na sua massa de luz. Com que linhas te coses? Com as dos meus poemas. Ora vejamos: vinte e cinco linhas, por exemplo, ou vinte e quatro, é linha a mais para coser um poeta. Ou a menos. Sempre a mais e a menos. «Aceita este risco supremo: renuncia a compreender aquilo que escreveu». Com uma linha assim cosem Emily Dickinson – que se cosera, ela, com as linhas de mil e seiscentos poemas. «O vento agarrou nas coisas do norte, / Acumulou-as no sul, / Dobrou depois o leste sobre o oeste (…)» – tudo enfiado numa agulha opondo magneticamente, não apenas as quatro partes cardeais, mas o poeta a si mesmo num prodigiosa costura celeste. Recapitulemos. Eles pensam. Prefiro o pensamento de que não há forma de dizer porquê e o como e o para quê. Talvez possamos recorrer à paráfrase, uma larga frase contendo em si, como coração, a intangibilidade do poema. Maneira de abraçar? Ele pede para ser abraçado? O mal é que a frase derivada, abraçadora, não aquece nem arrefece, não substitui. E então pergunta-se para que serve? Pois apenas serve aquilo que substitui. Se o poema fica, inamovível, sobra a paráfrase. Só interessariam as paráfrases a poemas desaparecidos, ardentes homenagens, louvor, invocações que restituíssem os belos corpos devorados. Seriam poemas em segunda mão, no entanto animados pelo sopro hínico. Os discípulos são autores em segunda mão, mas falta-lhes o espírito que restabelece a vida. As falas ecoam as falas escutadas – nelas está constantemente | a aparecer o que não desapareceu. Só as vozes da aparição conseguem louvar: louvam a cerimónia da sua aparição. Porque uma voz é isso mesmo, aparição. Há trinta anos, reiterando, Cesariny aparecia onde tentavam que desaparecesse. Agora aparece nas férias epigonais. Territorialmente desimpedida, esta poesia é tão absoluta e solitária que o comentário vai pouco, e dentro: é a última de nome religioso. E foi ele, Cesariny, quem o disse: «Assim acaba este estranho poema, o último de nome religioso escrito pelo Autor». O poeta cose-se com as suas linhas, religa tudo em nome escrito. Qualquer nome é o último, possui a força da renúncia, despede-se de si próprio. E compreende-se como primeira canção, a do fogo, misteriosa voz do mundo que o autor autoriza. Anda por aqui o Demónio, nesta música, ouve-se no fundo quando a leitura se torna mestra de si como de si era mestra a poesia: absoluta e solitária. É o que posso dizer, assistindo. Em quantas linhas, vinte e cinco, vinte e quatro, não coso nem descoso? Trata-se de entender, e faço pelo melhor: entendo o que não entendo, obscura coisa, esta, entender, prática do leitor religado. Também anda por aqui o Demónio, em tamanha audição. Que músicas para que ouvidos! As coisas do norte no sul, leste e oeste um sobre o outro. Dito em palavra pura. Quando se habita a poesia, condena o ofício às fogueiras acendidas em todos os lados do vento até o corpo se transmutar em diamante, um corpo que as luzes executam, como sanciona o étimo: luciferinamente. A pena capital, sofreu-a Cesariny, o canto desnorteado. Pois o norte é isso, um nome que procura, que descobre, com as suas inspirações boreais, uma versão de águas e terras juntas, elementos, complementos, um estilo de ficar australiano. O canto é uma desolação de ar e fogo. O poeta, servo e senhor dos pactos, sabe-o bem. Perguntem-lhe nos poemas. Mas nunca finjam que ele respondeu. Porque a sua metáfora, a alquimia baptismal, não é uma resposta aos outros, mas uma pergunta a si mesmo. E se há nela qualquer sedução, veja-se como vestígio daquela dança propiciatória, sempre hipnótica, difícil, ofuscante – exercida para a melhor posse dos talentos. É inerente ao capítulo infernal da comédia, um abuso no mais enigmático dos círculos: a beleza é monstruosa. Herberto Helder In ‘A Phala’, n.º 9, Abril/Maio/Junho, Assírio&Alvim, Lx, 1988. |